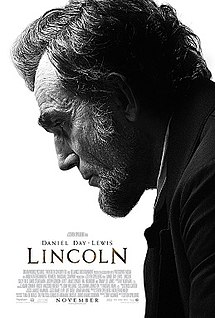Pensamo-nos
seres originais e novos. Mas não. Somos quotidianos, feitos para uma linha
melódica de continuidade, o anterior a preparar o seguinte. Por isso, sempre
que os imprevistos nos tomam de assalto, a mente devém um buraco agressor de
agitada incompreensão e não saber, a nova afirmação apenas sons estranhos numa
língua desconhecida, nós a duvidar da inteligência enquanto as palavras, ensaio
de um pequeno caos, dançam cá dentro sem significação. Devem ser apenas
segundos, mas parece-nos este rodopio muito tempo. E mal encaixam no lugar
certo, a normalidade. As minhas irmãs expectantes e eu mão no travão, no
impasse de entender. E logo que, o quêêêê???!,
onde é que está a carta? E larguei a bicicleta no caminho. Corria e ia
anotando as informações, está na cozinha
pequena em cima da mesa. E era uma carta bonita. Tinha selos às cores e um
envelope de papel grosso que os meus dedos correram ao comprimento e à largura,
impressões digitais em cada milímetro.
Galguei até ao quarto,
sentei-me à secretária com o dicionário de francês-português à espreita, e li-a
de ponta a ponta. Na primeira página, a Bernardette tinha escrito a sua alegria
e contava a odisseia da missiva. Os
selos estavam errados e a carta ficara retida, com multa, nos correios. Entretanto,
ela mudara de casa. Quando o pai passou na estação de correios para saber se
haveria correspondência para o antigo endereço, o funcionário mostrou a minha
carta; porém, ao vê-la, ele recusou-a; estava multada e desconhecia o remetente. Mais tarde, talvez ao jantar, contou o episódio; deslembrada do que fosse, a
Bernardette intrigou e, no dia seguinte, passou lá, pagou a multa e satisfez a
curiosidade. Foi assim que o destino me cumpriu os intentos. Teriam passado uns
três meses. Do outro lado da folha, pacientemente, “a francesa” respondia todas as minhas perguntas
e enviava-me uma foto. Muito loira, olhos azuis, gordinha. O meu oposto.
Achei-a o máximo. Depois de a ter relido várias vezes com o coração a
transbordar, condescendi em ler para as minhas irmãs que ouviram tudo
debruçadas no meu ombro para ver a letra, não sei para quê, não sabiam qualquer
palavra de francês.
Orgulhosa
daquela amiga francesa, fui ter com a minha mãe que andava a trabalhar na cova
e li para ela. A mãe não parou o trabalho nem fez qualquer comentário. Mas eu
comentava pelas duas, a fazer intervalos na leitura sempre que me apetecia. Ela
sachava o feijão frade e eu lia a deslocar-me ao mesmo ritmo, os sapatos a
asfixiar no pó que o sacho ia levantando, coisa que me não apoquentava. A mãe, chega-te para lá senão faço como o Nardito,
corto-te as pernas. Eu desviava uma perna e continuava a ler quase em cima
dela. De vez em quando abraçava-a a garantir de viva voz que a gostava muito e ela num
sorriso, deixa-me chata, assim nunca mais
acabo isto e é quase noite, vai-te embora. Fui sempre muito mal mandada,
portanto só subi a encosta quando já tinha lido tudo. No meu egotismo, nunca
pensei em ajudá-la nos tantos trabalhos que tinha. E o seu cansaço notava-o
apenas quando, sentada à lareira por minutos, logo adormecia. Nessa época, via
um futuro endinheirado onde não a deixaria trabalhar senão o que lhe apetecesse,
lhe daria prendas infinitas, todos os meses várias. E a vida calada. Sem
desmentir. Foi assim que cresci durante quinze anos, as mãos dela a afastarem-me todos os escolhos, a fazerem caminho onde passasse.
Nessa noite,
fiz os trabalhos do colégio à pressa e deitei-me mais tarde. Não consegui
esperar pelas folhas de carta da mercearia e respondi à Bernardette em folhas
de caderno e de imediato. Não tinha fotografia para a troca, mas não me importei. De manhã, levei as duas cartas para o colégio e a Bernardette
foi o assunto das conversas. Com tanta novidade, a aula de inglês correu como gostava, falei pelos cotovelos.
À medida que o
tempo ia passando sobre nós, verifiquei que eu respondia na volta do correio e
a Bernardete era infindavelmente mais demorada. E nunca isso me desanimou. Sem
qualquer incidente, mantivemos contacto a duas velocidades. A francesa passou a
habitar o vocabulário de minha casa e no colégio foi absolutamente esquecida;
das três correspondentes, era a única que se mantinha e ninguém se interessava
em demasia pelos meus assuntos, o que nem me aborrecia, a Bernardette deveio toda minha. Ainda hoje conservo esse princípio: se o que dizemos desinteressa
os outros é melhor calá-lo, não vá o assunto ofender-se de não ser escutado.
Não somos desimportantes aos outros. São os assuntos de que falamos que não
lhes interessam.
Passaram anos.
Saí do colégio. Fiquei um ano a descansar em casa. Voltei a estudar. E nas
férias dos meus inconscientes dezassete anos, recebi uma carta da francesa. Que
estava em Braga com os pais, na quinta da Galinha Assada, de que ainda hoje só
sei o nome. Queria conhecer-me. Perguntava se podia vir a minha casa.
Sem mais
pensar, respondi imediatamente que sim.